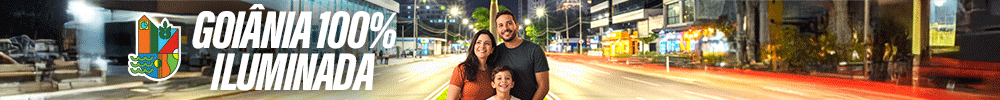A insônia tem dessas coisas.
Chega sem fazer barulho, sem pedir licença,
e abre gavetas que eu jurava estarem vazias.
De repente, estou de volta a 1979.
Na casa da Ieda e do Erlik.
Ouvindo a chuva bater no telhado com aquele ritmo
que só a memória reproduz direito,
uma música de fundo para noites
que não sabiam que um dia virariam saudade.
A casa era simples.
O espaço, apertado.
E as goteiras… poucas, mas certeiras.
Bastava um pingo errado no rosto
para começar o balé dos colchões pela sala e pela cozinha.
Cada barulho era um chamado.
E lá ia a Ieda, no escuro, tateando os cantos, ajeitando tudo,
como quem protege não só o sono,
mas a pequena e preciosa paz doméstica.
Naquele tempo, era aperreio.
Hoje, é ternura pura.
Saudade até das goteiras,
veja só a que ponto chegamos.
É que agora entendo:
aquelas noites tinham um aconchego
que conforto moderno não sabe entregar.
A vida era simples.
E a simplicidade nos abraçava sem esforço,
sem luxo, sem filtros, sem pressa.
E havia a galinhada.
Ah… essa não era só refeição, era quase um ritual.
Sempre no sábado de Aleluia.
Alguém lembrava da panela grande.
Outro cuidava do tempero.
E a galinha…
Bem, a galinha “emprestada” vinha do terreiro do vizinho,
e ele mesmo só descobria isso no dia seguinte,
quando já estava sentado à mesa,
comendo, rindo, e percebendo
que aquele sabor todo tinha começado no quintal dele.
Não havia constrangimento.
Não havia culpa.
Só gargalhadas.
Era tudo festa e amizade,
uma travessura coletiva perdoada pelo afeto.
Mesa cheia.
Conversa alta.
Cheiro de alho subindo pelas paredes.
Gente chegando sem convite.
Gente ficando sem hora pra ir embora.
Era vida em volume máximo.
E todo mundo gostava.
E, completando o cenário,
a velha estrada de chão rumo à Marialva.
Em alguns trechos, nenhuma ponte, só coragem.
Chovia.
O córrego subia.
E pronto: passagem interrompida.
O jeito era aceitar a ordem da natureza.
Parar.
Desligar o motor.
Esperar a água baixar.
E aproveitar o tempo que se oferecia ali mesmo:
conversando, contando causos, rindo à toa.
Sem pressa.
Sem ansiedade.
Sem celular apitando urgência nenhuma.
Só nós,
a estrada vermelha,
a chuva grossa
e uma paciência que hoje anda rara.
Ali, diante do grotão,
aprendíamos uma lição que só a idade explicou direito:
o tempo não se dobra à nossa vontade,
e, ainda bem, não se dobra.
Hoje, no silêncio da madrugada, me pergunto:
onde estarão os Garcias daquela época?
Alguns já cruzaram pontes
que não são de madeira nem de cimento.
Outros seguem espalhados pelo mundo,
vivendo suas travessias,
guardando no peito as mesmas lembranças
que agora pingam dentro de mim.
Talvez, neste instante,
algum deles também esteja acordado,
tentando envelhecer com doçura.
E eu sigo aqui.
Pensando no futuro.
No que planejar para 2026.
Na longevidade, o planejamento muda de escala,
mas não perde valor.
Não sonho com grandes projetos.
Sonho com paz.
Com dias leves.
Com mais textos.
Com o privilégio de acordar agradecido
e dormir em paz.
Isso já é suficiente.
Aliás, sempre foi.
A vida, essa professora paciente,
me ensinou algo precioso:
O hoje é tudo o que realmente temos.
O resto…
é memória
ou esperança.
E que bênção seja assim.
As goteiras,
a galinhada do sábado de Aleluia,
o córrego cheio,
as viagens para Marialva…
Tudo isso me construiu por dentro.
Naquele tempo,
eu já era feliz —
só não sabia medir a grandeza disso.
Agora sei.
E agradeço.
Agradeço por cada pingo no telhado
e por cada pingo que ainda cai dentro do peito,
lembrando que viver valeu,
e ainda vale.
E, se a vida continuar pingando goteiras,
que sejam sempre assim:
goteiras de lembrança boa,
molhando devagar o coração,
sem pressa de secar.